BONS TREINOS E ATÉ A PRÓXIMA!
sábado, 28 de fevereiro de 2015
Refeição Pós-treino: Proteínas, Carboidratos ou os dois juntos?
BONS TREINOS E ATÉ A PRÓXIMA!
sábado, 16 de julho de 2011
Desequilíbrios Hormonais e TPC (terapia pós-ciclo)

Em relação à utilização de recursos ergogênicos para aumento da performance, os EAAs ainda são a classe mais utilizada. Como sabemos, estes compostos são, de um modo geral, originados da molécula de testosterona e desempenham em nosso organismo grandes influências no quadro metabólico geral. Destas influências, notadamente importante é aquela que culmina na conseqüente diminuição da própria produção do hormônio, a denominada produção endógena.
Vamos começar pela regulação tida como “normal” – que aqui prefiro chamar de fisiológica – dos níveis de testosterona e estrógenos. Observe que estamos nos referindo aos casos de hipogonadismo referentes à administração exógena de testosterona em sujeitos do sexo masculino, provocada por administração indevida de EAAs, cuja supressão se reflete muito mais prejudicial que os desequilíbrios hormonais observados nos indivíduos do sexo feminino. Este assunto abordaremos em uma outra ocasião.
A regulação da produção de testosterona no organismo masculino se dá por mecanismo de retroalimentação (feedback) negativo, ou seja, qualquer aumento nos níveis basais de testosterona é captado pelos receptores de andrógenos no Hipotálamo que, por sua vez, inibe a secreção do Hormônio Liberador de Gonadotrofina (GnRh). O GnRh exerce a função de estimular a produção dos hormônios luteinizante (LH) e folículo estimulante (FSH) na hipófise. Estes hormônios, por sua vez, estimulam as células de Leydig e de Sertoli (respectivamente) à produção de testosterona e à espermatogênese.
Uma vez que se estabelece o feedback negativo, a adeno-hipófise passa a não liberar LH e FSH como deveria, e a conseqüência disto se reflete na diminuição dos níveis de testosterona. Ao contrário do que alguns podem pensar, a diminuição da testosterona endógena ocorre não somente no final do assim chamado “ciclo” de EAAs, mas já nos primeiros dias da administração exógena.
Ocorre que, quando há um aumento expressivo na quantidade circulante de testosterona, o excesso não somente causa o feedback negativo, bem como é também responsável pela conversão enzimática da testosterona em outros metabólitos como a dihidrotestosterona (DHT) e estradiol. DHT, infelizmente possui mais efeitos virilizantes que anabólicos, devendo portanto, ser evitada, especialmente por sua afinidade com o tecido prostático. Já o estradiol, por ser um estrógeno, causa a formação e deposição de ginecomastia, gordura de padrão ginóide e retenção hídrica.
Evidentemente, alguns sujeitos tem uma tendência em apresentar maior probabilidade de conversão de metabólitos, seja para DHT ou estradiol, dependendo de sua carga enzimática. As enzimas responsáveis pela conversão são, respectivamente, 5 alfa redutase e Aromatase.
Curiosamente, a conversão mediada pela Aromatase tende a formar estrógenos que irão se afinar pelos receptores de estrógeno (REs) presentes no Hipotálamo – na verdade, o esta glândula possui mais Receptores de estrógenos que de andrógenos, sendo então o estrógeno mais influente que a testosterona nesta mediação – o que provoca, a exemplo do que ocorre com a testosterona, supressão de LH e FSH. Estudos demonstram que o estrogênio também pode resultar em dessensibilização nos receptores presentes na adeno-hipófise.
Na tentativa de minimizar os efeitos resultantes da produção de estrógenos durante a utilização de EAAs, usuários lançam mão de drogas Anti-estrogênicas e Moduladoras Seletivas do Receptor de Estrógeno como Clomifeno (Clomid, Indux) e Tamoxifeno (Nolvadex). Mas o que estas drogas fazem? Como são estrógenos fracos, se afinam com o RE e ocupam o sítio que deveria ser ocupado pelo estradiol. Desta forma, é enviada ao hipotálamo a falsa informação de que há níveis diminuídos de estrógenos na corrente sanguínea. Como a produção de estrógenos no organismo masculino se dá principalmente pela conversão via Aromatase, ocorre então, de forma indireta, aumento na produção da testosterona endógena.
Porém, o mais curioso é que, quando há a ligação do MSRE ou AE com o RE, a produção de estrógenos continua a acontecer, uma vez que a enzima responsável pela conversão (Aromatase) continua a exercer sua função, especialmente porque na corrente sanguínea continuam elevados os níveis de estrógenos, estes porém, apenas não estão mais se afinando com o RE. Em adição, o aumento de testosterona obtido com a utilização do MSRE também pode ser substrato para conversão em estrógenos, conforme a Aromatase continua a cumprir sua função de conversão.
Nessa perspectiva, muitos tentam induzir a inibição da própria enzima, que seria feita através da ação de uma outra droga, desta vez não um antagonista como os MSREs, mas um composto da classe dos inibidores enzimáticos como o Exemestano (Aromasin) ou Letrozol (Femara). Estas substâncias inibem quase que completamente a biossíntese de estrógenos, levando também a um estado de feedback negativo. Neste caso, esta situação tende a ser prejudicial, levando em conta as funções benéficas provenientes dos níveis normais de estrógenos.
Denominada de Terapia Pós-ciclo, a intervenção adotada para se restaurar a produção endógena de testosterona é, muitas vezes, uma “receita de bolo” onde se seguem orientações comuns a quase todos, desprezando assim, a situação metabólica individual de cada um. O ideal, nesta situação, seria traçar um perfil bioquímico – através de dosagens colhidas antes, durante e após a utilização – a fim de se adotar a intervenção adequada. Isto, infelizmente, não é o que se vê na prática. A maioria dos usuários não tem acesso ao monitoramento adequado, o que leva a condutas inapropriadas.
Entretanto, em se tratando do uso de recursos como EAAs, deveriam ser consideradas terapias pré-ciclo, durante e pós. Um exemplo de confusão em relação à TPC é utilizar drogas como a Gonadotrofina Coriônica Humana (HCG) após a utilização de esteróides. Esta substância mimetiza a ação do LH, porém nesta situação isto não é interessante, uma vez que a maior preocupação seria estimular o próprio LH endógeno. Desta forma, a utilização de HCG poderia, em tese, aumentar a secreção de testosterona, mas não seria a solução definitiva, sendo HCG passiva de causar dessensibilização das células de Leydig. Somente seria admissível utilizar uma droga como esta em situações de severo hipogonadismo e, ainda assim, como coadjuvante para restabelecer o HPTA durante ciclos pesados, não descartando a utilização “pós” de Clomifeno ou Tamoxifeno.
O que de fato ocorre, é que se cria uma espécie de “cultura” alternativa onde muitos usuários, inconsequentemente, acabam por confiar em informações contidas em fóruns de internet, muitas vezes apenas relatos de outros usuários. Tais informações, na maioria das vezes, não tem embasamento cientifico e levam a equívocos que podem ser bastante arriscados para a saúde. Vale a pena lembrar Dan Duchaine, Steroid Guru da década de 80 que influenciou vários pessoas quanto a automanipulação de substâncias proibidas.
Se você observou com atenção os fenômenos descritos até aqui, perceberá o quanto o organismo se empenha em manter o estado de homeostase. Nesse sentido, o aumento nos níveis de uma substância no organismo sempre provoca uma reação em cadeia, promovendo sucessivos desequilíbrios metabólicos. Significa dizer que, em maior ou menor grau, sempre ocorrerão alterações que exigirão uma intervenção adequada para se restaurar o equilíbrio.
Entendendo que até mesmo uma pequena elevação nos níveis hormonais pode gerar desequilíbrio, é interessante especular como proporcionar aumentos que sejam condizentes com a demanda metabólica, resultando numa maneira de estimular naturalmente a produção destes hormônios e, desta forma, manter a maior situação de homeostase possível. No mês que vem abordaremos substâncias e alimentos funcionais que supostamente cumprem este papel.
Referências:
1. GUYTON & HALL, Tratado de Fisiologia Médica, ed. 10., Guanabara Koogan, pags. 865-866
2. Tan RS, Vasudevan D. Use of clomiphene citrate to reverse premature andropause secondary to steroid abuse. Fertil Steril 2003;79:203–5.
3. Adashi EY, Hsueh AJ, Bambino TH, Yen SS. Disparate effect of clomiphene and tamoxifen on pituitary gonadotropin release in vitro. Am J Physiol. 1981;240:E125-E130.
4. Gill GV. Anabolic steroid induced hypogonadism treated with human chorionic gonadotropin. Postgrad Med J 1998; 74: 45-6
5. Goodman & Gilman. las bases farmacologicas de la terapéutica. Interamericana, 1996. 2 v. 28 cm. Edición ; 8. ed pags. 1456-1465
terça-feira, 10 de maio de 2011
Análogos do GHRH e Secretagogos de GH: alternativa ao Hormônio do Crescimento?

A utilização deste peptídeo pode levar à diminuição da sensibilidade à insulina nos tecidos-dependentes (fator de risco para desenvolvimento do diabetes tipo II), surgimento de artralgia (dor nas articulações), cardiomegalia (aumento do miocárdio), indução de crescimento em tumores pré-existentes e vários outros efeitos indesejáveis.
A liberação do GH se dá pela adeno-hipófise, porém sua produção é mediada pelo hipotálamo. Este por, sua vez, graças a ação do hormônio liberador de hormônio do crescimento (GHRH), sinaliza à hipófise a necessidade de maior secreção de GH. Esta liberação por parte da adeno-hipófise também é influenciada por um outro hormônio produzido no hipotálamo, o hormônio inibidor de GH (GHIH), cuja função é a de supressão do GH. Outro hormônio que inibe a secreção do GH é a somatostatina, produzida no pâncreas. Este peptídeo está fortemente relacionado com o metabolismo da glicose, apresentando uma grande interação com a insulina. Em outras palavras, quanto mais insulina, mais somatostatina. Resultado: menos GH.
Com a evolução dos estudos voltados a hormonoterapia do GH, alguns autores sugeriram que a melhor forma de se incrementar este peptídeo não estaria em utilizá-lo na sua forma exógena, e sim estimular a produção natural através da administração de substâncias que aumentam o GHRH, ou seja, sinalizar a adeno-hipófise para aumentar sua secreção. A este tipo de substâncias, foi dada a denominação de GHRPs ou simplesmente secretagogos de GH.
A função deste composto é então, produzir uma resposta metabólica que culmine em uma maior produção do GH endógeno. Atualmente, há várias companhias, especialmente nos EUA, que vêm explorando esta fatia na indústria farmacêutica. A grande proposta desta utilização consiste em lutar contra os efeitos deletérios observados na idade avançada, uma vez que o GH é um dos mais promissores representantes no combate aos sinais do tempo.
Destes secretagogos, destacam-se principalmente o Ipamorelin, Hexarelin e GH peptídeo 2 e 6. Segundo estudos, Ipamorelin se mostrou como um dos mais seguros GHRPs por não promover aumento na secreção de prolactina e cortisol. Embora os demais GHRPs tenham uma maior influência na secreção de GHRH (Hexarelin é o mais expressivo, neste ponto), demonstraram aumentar significativamente os níveis de ACTH.
Outra classe de compostos tidos como capazes de aumentar a secreção de GH são os análogos de GHRH, ou seja, substâncias que se comportam virtualmente como o hormônio liberador de GH, sendo, portanto praticamente idênticas ao mesmo, apenas com alterações mínimas em sua cadeia aminoacídica. A desvantagem dos análogos de GHRH é que estes não funcionariam bem com níveis de somatostatina altos, ou seja, deveriam ser administrados em jejum ou em conjunto com algum tipo de GHRP.
Como qualquer outro recurso ergogênico, sua utilização reserva conhecimentos que somente um profissional da área médica habilitado detém. Embora estes peptídeos sejam uma possível alternativa ao uso do GH, ainda devem ser feitos mais estudos a fim de se comprovar sua eficácia e segurança, seja como agente terapêutico, na luta contra o envelhecimento ou até mesmo na busca por mais músculos.
BONS TREINOS E ATÉ A PRÓXIMA!
segunda-feira, 4 de abril de 2011
Rimonabanto, a “pílula anti-barriga”, funciona?

A exemplo do que ocorreu com a sibutramina – que inclusive, foi utilizada em associação com o rimonabanto – a droga ganhou destaque por suas propriedades “milagrosas” no combate à obesidade. Relatos pessoais de perda de 10 kg foram usuais com usuários deste medicamento. Embora os especialistas da área médica encorajassem que o uso deveria ser acompanhado por dietas restritivas e pratica de exercícios físicos. Na busca por efeitos rápidos no emagrecimento, muitas pessoas viram no rimonabanto uma esperança real, sendo assim a sua proibição vista com maus olhos por um grande numero de pessoas ao redor do mundo.
Mas o rimonabanto realmente encerrava todas as propriedades benéficas que se falaram ao seu respeito? Como funciona de fato este fármaco? Qual a verdadeira razão de sua proibição?
Mecanismo biológico de ação do rimonabanto
A descoberta deste medicamento se deu quando pesquisadores estudaram o funcionamento do Sistema Endo-Canabinóide. O interesse por este mecanismo biológico se deu ao serem realizados estudos com a substância tetrahidrocanabinol (THC) – isto mesmo, a popular canabbis sattiva ou simplesmente maconha. Os efeitos desta erva, a saber, influenciam significativamente os centros moduladores de apetite. De posse desta informação, os cientistas identificaram em nosso organismo substâncias semelhantes, todavia, resultantes da produção endógena. Também observaram a ocorrência de enzimas específicas na sua ativação e degradação.
Destes endocanabóides, dois foram identificados como mais importantes: a araquidonoilethanolamina, que foi denominada de anandamida; e a 2-araquidonoilglicerol (2-AG). Existem basicamente dois tipos de receptores para estas substâncias, denominados de receptoras CB¹ e CB². A maior parte destes encontra-se no cérebro e afetam áreas como a função motora, memória e estado psíquico.
Em menor escala, CB¹ e CB² aparecem nas células do sistema imunológico, mucular, no tecido adiposo e em diversas outras células do tecido neurológico. Desempenham um importante papel na regulação da dor, da prevenção de alguns tipos de câncer e vários distúrbios. O rimonabanto age afinando-se com o receptor CB¹, impedindo desta forma, que a anadamida exerça sua função. Uma das influências mais importantes está na ativação do hormônio adiponectina, secretado nos adipócitos e que regula a formação de gordura em nosso organismo. Níveis baixos de adiponectina são fortes indicadores de síndrome metabólica. Sob este aspecto, a droga exerce papel fundamental na utilização energética da gordura corporal, melhorando também o metabolismo da glicose e perfil lipídico.
Proibição do rimonabanto
Embora a sua eficácia na queima de gordura tenha sido comprovada por diversos estudos, o rimonabanto foi proibido devido à relação com depressão e inclinação ao suicídio. Sua comercialização foi suspensa em 2008 e continua até hoje. No entanto, ainda é possível, com certa facilidade, encontrar na web anúncios de venda do rimonabanto. Tal situação é semelhante ao que ocorre em relação ao Dianabol, Deposteron, Winstrol-V e tantos outros esteróides anabolizantes que foram retirados de circulação e ainda podem ser encontrados clandestinamente em versões genéricas, muitas delas totalmente inócuas.
Muitos pesquisadores trabalham no sentido de encontrar um substituto seguro para o rimonabanto. Recentemente, foram feitos testes com uma erva que, supostamente, teria efeitos semelhantes ao rimonabanto: a Ecalyculatta Vel, cujo extrato é proveniente de uma planta encontrada aqui no Brasil. Segundo a companhia fitoterápica que a distribui, a erva ajuda a controlar os centros nervosos do apetite – a despeito do que faz o Acomplia – porém sem induzir a depressão. Por enquanto, não existem estudos conclusivos em relação a esta afirmação.
Conclusões
Apesar da malograda tentativa dos idealizadores do rimonabanto em produzir uma solução definitiva para o combate à obesidade, muitas pesquisas ainda serão necessárias para atestar a viabilidade deste medicamento como um aliado seguro na queima de gordura corporal. Por ora, o melhor é contar com a velha e boa combinação exercício físico e dieta!
Referências:
“The Therapeutic Potential of Drugs That Target Cannabinoid Receptors or Modulate the Tissue Levels or Actions of Endocannabinoids”; The AAPS Journal. 2005; 7 (3)
“The Pharmacology of cannabinoid receptors and Their Ligands: an Overview”; International Journal of Obesity. 2006; 30
“Role of the Endocannabinoid System in Depression and Suicide”; Trends In Pharmacological Sciences. 2006; 27 (10)
BONS TREINOS E ATÉ A PRÓXIMA!
segunda-feira, 28 de março de 2011
CREATINA: Suplementação e aspectos atuais

A despeito do que normalmente ocorre com alguns lançamentos da indústria da suplementação esportiva – cuja eficácia não chega a ser cientificamente comprovada – a suplementação de creatina se revelou como uma das alternativas mais eficientes para o incremento da performance, popularizando-se não somente entre os atletas de elite mas entre praticantes de atividade física no mundo inteiro.
Histórico da creatina
Há cerca de apenas duas décadas a creatina tem sido utilizada como um meio de se aprimorar o rendimento atlético em várias modalidades esportivas, especialmente naquelas onde são preconizadas a potência e explosão musculares. Embora tenha sido descoberta em 1832, por um cientista francês chamado Michel Eugene Chevreul, seu uso nos esportes só despontou oficialmente nos Jogos Olímpicos de Barcelona, em 1992, quando atletas ingleses declararam que utilizaram o recurso para melhorar seu rendimento. Linford Christie, então vencedor dos 100 metros rasos, atribuiu sua vitória à sua suplementação. A partir daí, seu uso se popularizou e a indústria da suplementação esportiva passou a produzi-la em larga escala, inicialmente na forma de monohidrato de creatina.
Biossíntese e mecanismo de ação da creatina
A creatina é uma amina derivada de três aminoácidos: glicina, arginina e L-metionina. Sua síntese endógena se dá em duas etapas: 1) pela transaminação da arginina e da glicina, mediada pela enzima AGAT (arginina-glicina aminotransferase) para formar o ácido guanido-acético ou glicociamina, etapa renal da biossíntese; 2) pela posterior metilação mediada pela enzima guanidoacetato-metiltransferase para finalmente formar o ácido metil-guanido-acético (creatina), no fígado.
Embora alguns estudos apontem que a creatina possa ser sintetizada em outros tecidos, como o pâncreas, esta síntese é ínfima e não atende a demanda do organismo. De um modo geral, podemos afirmar que sua produção se dá principalmente pelo metabolismo renal e hepático. A síntese diária em um indivíduo saudável é da ordem de 1g/dia, sendo complementada pela ingestão de aproximadamente 1g/dia advinda da alimentação. Ocorre predominantemente na carne vermelha e em alguns peixes, como salmão e arenque.
O tecido muscular apresenta a maior concentração desta substância (cerca de 150 a 160mmol/kg), apresentando-se maior nas fibras de contração rápida (tipo II). Como é incapaz de sintetizá-la, sua captação é feita através da absorção pela membrana celular. Tal processo se dá através de um sistema de transporte Na (sódio) dependente. Uma vez no interior da célula muscular, a creatina é fosforilada pela enzima creatina quinase, cuja função é mantê-la estável através da doação de um fosfato inorgânico para formar a molécula de creatina fosfato.
Nas requisições iniciais de energia (cerca de 8 a 10 segundos de duração), ocorre a quebra de ATP (trifosfato de adenosina), gerando ADP (difosfato de adenosina). Este processo é conhecido como Sistema Energético dos fosfagênios e atende aos primeiros momentos de contração muscular, reduzindo drasticamente os estoques de ATP para ADP. Na mesma velocidade de degradação do ATP, a creatina cede o fosfato para o ADP, regenerando a molécula e possibilitando desta forma, perdurar um pouco mais a geração de energia. A acidose produzida durante as contrações musculares vigorosas é em parte neutralizada pela regeneração da creatina, o que possibilita em conjunto com o aumento da regeneração do ATP, mais tempo útil de contração muscular. O metabólito resultante é a creatinina, posteriormente excretada pelos rins.
Suplementação da creatina
Inicialmente, as indústrias de suplementação esportiva passaram a oferecer a creatina na apresentação que hoje ainda continua sendo a mais popular, a monohidratada. Muitos puristas defendiam que o consumo da creatina deveria ser feito naturalmente através da alimentação, porém para obter 5 g de creatina, seria necessário comer cerca de 1 kg de carne fresca.
Os protocolos de utilização sugeriam que esta fosse utilizada durante cerca de cinco dias com aproximadamente 15 a 20g/dia. Esta fase ficou conhecida como fase de saturação (loading) e ganhou a preferência dos usuários por apresentar rápidos ganhos de peso. Algum tempo depois, foram feitos estudos que indicavam que os ganhos produzidos neste intervalo de tempo eram resultado da grande hidratação celular que ocorria durante a saturação de creatina nos depósitos intramusculares. Segundo muitos autores, os mesmos efeitos poderiam ser vivenciados em um intervalo mais longo, cerca de um mês de utilização a doses mais baixas (cerca de 5 g/dia).
Mujika e Padilla (1997) reportaram uma considerável diminuição no volume urinário de usuários durante a fase de saturação, levando a hipótese de que a creatina estivesse relacionada com dano na função renal. Este é ainda um tema não completamente elucidado, embora muitas pesquisas recentes apontem para segurança na ingestão de 5g/dia para indivíduos sem histórico de doença renal.
Com o avançar das pesquisas, novas apresentações foram desenvolvidas no intuito de maximizar os ganhos e diminuir a retenção hídrica usualmente comum com a forma monohidratada. Como a captação de creatina se apresenta muito maior pela ação da insulina, foram adicionadas substâncias que facilitassem sua absorção, como solução de carboidratos de alto índice glicêmico, ácido alfa-lipóico, coenzima Q-10 etc.
Em outro momento, na tentativa de melhorar a solubilidade da creatina no meio líquido, foi lançada a forma micronizada, onde as partículas foram diminuídas para incrementar a absorção e ao mesmo tempo diminuir o desconforto gástrico que algumas pessoas relatavam ao ingerir a versão regular.
Logo depois, a creatina passou a fazer parte de vários suplementos denominados cell volumizers, onde se adicionavam aminoácidos como a glutamina, taurina e carboidratos simples como dextrose e ribose.
Algumas companhias sugeriram que a administração de glicociamina em conjunto com moléculas doadoras de metil, como a betaína (trimetilglicina), Vitamina B15 (dimetilglicina) e SAMs (s-adenosil L-metionina) supostamente induziriam a biossíntese de creatina pelo organismo e lançaram produtos contendo estes compostos, apelidados de “otimizadores de creatina”, mas em contrapartida, pesquisas demonstraram que não houve alterações significativas. Estudos demonstram que as taxas sanguíneas de glicociamina diminuíram ao ser administrada a creatina exógena, o que evidencia o processo de retroalimentação, ou seja, a ingestão de creatina exógena promove a diminuição da produção endógena. Porém, diferentemente da regulação relacionada com a glicociamina, as reservas finais de creatina no compartimento intracelular independem da sua concentração plasmática.
Conforme alguns estudos apontassem para intoxicação por creatinina (resultante da instabilidade da molécula de creatina no meio ácido do estômago), algumas companhias resolveram produzir uma versão alcalinizada, alegando que tal processo a protegeria da ação gástrica e evitaria a formação de produtos tóxicos. Poortmans et al (2005) conduziram um estudo acerca do tema das citotoxinas provenientes do metabolismo da creatina, mas sem relação com a idéia de alcalinização como meio de evitar tal conversão (vide abaixo, em creatina e doença renal).
Atualmente, uma das formas mais procuradas é a esterificada, que supostamente garantiria uma maior absorção sem o inconveniente da retenção hídrica observada com a forma monohidratada.
Creatina e doença renal
Este é ainda um tema não completamente elucidado, embora muitas pesquisas recentes apontem para segurança na ingestão de 5g/dia para indivíduos sem histórico de doença renal, alguns autores sustentam que há relação entre a ingestão de creatina e dano à função renal. Kuehl et al (1998) conduziram um estudo nesse sentido.
Os autores que rebatem esta tese se apoiam no fato de que muitos estudos são conduzidos com indivíduos sem histórico clínico apropriado, apresentando na maioria das vezes indicadores de predisposição à doença renal, como ocorre nos casos de diabetes insulino-dependente e independente, hipertensos, idosos etc. Poortmans et al (1999) relataram, após um estudo envolvendo homens saudáveis que ingeriram creatina num prazo de 10 a 60 meses, que não houve nenhuma anormalidades em sua função renal. Em 2005, Poortmans et al realizaram novo estudo para evidenciar a relação de ingestão de creatina com formação de produtos citotóxicos e a possível influência na função renal, concluindo que não houve alterações significativas nesse aspecto. Gualano et al (2008) também fizeram revisão bibliográfica sobre o assunto, procurando validar a segurança na utilização de creatina. Segundo os autores, é preciso sistematizar as pesquisas para se obter resultados mais condizentes com a realidade.
Embora existam estudos que relacionem a incidência de nefrite intersticial com o consumo de creatina, ainda não há dados concretos que sustentem a veracidade da associação.
Creatina e metabolismo da glicose
Recentemente, têm sido feitas pesquisas no intuito de se entender a influência da ingestão de creatina no metabolismo da glicose. Estudos realizados em 2006 com modelo animal por Einjde et al demonstraram que existe um aumento expressivo na sensibilidade à insulina, o que corrobora com a idéia de que a Creatina pode melhorar a captação de glicose através do aumento da expressão de um importante transportador de glicose, o GLUT-4. Este estudo se contrapõe ao que afirmaram Van Loon et al, que concluíram que a creatina influencia apenas a síntese de glicogênio, não exercendo ação nas proteínas transportadoras de glicose.
A ação dos compostos guanidínicos (a creatina faz parte deste grupo) no metabolismo da glicose já foi bastante explorada pela literatura. A própria metformina (dimetilbiguanida), droga de primeira escolha para o tratamento do diabetes tipo II, é também um composto desta classe.
Possivelmente, há uma relação real entre a formação de glicogênio e melhora na captação da glicose com o uso da creatina, melhorando também o perfil lipídico.
Creatina, células-satélite e sistema neurológico
Embora a administração de creatina ofereça como principal vantagem o aumento da força muscular e a capacidade de prolongar o sistema dos fosfagênios (ATP/CP), há uma notável contribuição deste composto na proliferação de um determinado grupo de células especializadas no reparo e regeneração do tecido muscular, as células-satélite. Este tipo de célula permanece ao longo da periferia (entre a lâmina basal e o sarcolema) das células musculares – daí a expressão “satélite” – em estado quiescente. Na presença de trauma, estas células doam o material genético para reparar possíveis danos na estrutura da fibra muscular.
Olsen et al (2006) comprovaram em um estudo, conduzido com 32 indivíduos engajados em um treinamento de força de semanas de duração, que as concentrações de células-satélite havia aumentado significativamente nos grupos onde fora feita a suplementação com creatina. Concluiu-se então que, ao mesmo tempo que a creatina aumenta a aptidão para o atividade, promove também um notável aumento na capacidade de regeneração muscular.
Embora a utilização da creatina esteja intimamente relacionada com o desempenho atlético, há evidências que esta exerce papel importante na recuperação de traumas neuromusculares e distúrbios de ordem neurológica, como no mal de Parkinson e doença de Huntington. Dos 5% da quantidade total de creatina no organismo, boa parte encontra-se no cérebro. Tarnopolsky et al (2001) sugeriram a existência de uma ação terapêutica da creatina em casos de degeneração neuronal. Já em outro estudo, conduzido por Zhu et al (2004), foi demonstrada em modelo animal a capacidade da creatina em aumentar os estoques de ATP no tecido cerebral nos quadros de isquemia. Em 2008, Bender et al estudaram a função renal de pacientes idosos com Parkinson a fim de se estabelecer segurança na utilização terapêutica da creatina enquanto coadjuvante da terapia para a doença. Como os benefícios para a sistema neurológica se dão a longo prazo, o estudo demonstrou que tal suplementação não afetou a função renal nestes pacientes, mostrando-se uma alternativa segura e viável.

APRESENTAÇÕES DE CREATINA DISPONÍVEIS:
CREATINA MONOHIDRATADA – É a forma mais comum que se pode encontrar. Adiciona-se a molécula de água para manter a creatina estável. Devido a sua baixa solubilidade, pode causar desconforto gástrico e (ou) diarréia em indivíduos sensíveis. Sua absorção é otimizada através da ação da insulina, por esta razão recomenda-se utilizá-la com bebidas contendo carboidratos de alto glicêmico, como dextrose. Existe também na forma micronizada.
CREATINA CITRATO – uma das primeiras variações após a forma monohidratada. É resultante da união da molécula de creatina com uma molécula de ácido cítrico, um dos intermediários do ciclo de Krebs. Possui apenas cerca de 40% de creatina em sua totalidade, mas apresenta excelente solubilidade. Sua eficácia não foi comprovada pela comunidade científica.
CREATINA FOSFATO – este tipo de suplemento de creatina gerou especulação em seu lançamento, pelo fato da creatina intramuscular ser a creatina fosfato. Porém, a presença de um grupo fosfato atado à creatina fora do meio intracelular não melhora sua captação, muito pelo contrário, torna-a mais difícil. O grupo fosfato não atravessa facilmente a membrana, portanto a fosforilação da creatina é um meio de aprisioná-la no interior da célula, não em seu exterior. Essa creatina se popularizou, por motivos óbvios.
CREATINA MALATO – A idéia foi semelhante a da creatina citrato, desta vez atando-se à molécula o ácido málico, outro intermediário do ciclo de Krebs. Não foram feitos muitos estudos científicos acerca desta forma de creatina, mas acredita-se que suas propriedades não são maiores que a forma monohidratada. A vantagem é a solubilidade, muito maior.
CREATINA TARTARATO – apresentação contendo cerca de 70% de creatina e 30% de acido tartárico. Essa união permite a creatina seja produzida em base sólida, como em cápsulas, barras, tabletes efervescentes e comprimidos mastigáveis.
CREATINA MAGNÉSIO – neste caso, quela-se a cretina com magnésio para, em tese, proteger a creatina do meio ácido do estômago. Como o magnésio participa da transferência de fosfatos no sistema CP-ATP, supostamente este mineral favoreceria a produção de energia. Recentemente, foi feito um estudo onde foi demonstrado que este complexo magnésio/creatina produziu ganhos reais em força muscular.
CREATINA ANIDRA – esta forma de creatina é obtida através da remoção da molécula de água da creatina, resultando em pura creatina na forma cristalizada. Este processo proporciona aproximadamente 6% a mais de creatina, mas não oferece grandes vantagens em relação às outras formas.
CREATINA SERUM – esta apresentação promete absorção imediata sub-lingual, ou seja disponibilidade da creatina sem necessidade de digestão. Por ser uma forma não estável de creatina, deve ser ingerida imediatamente antes da atividade física. Sua eficácia não foi ainda comprovada por estudos científicos.
CREATINA ÉSTER – como a creatina não tem grande afinidade com a membrana, por ser mais hidrofílica, supôs-se que se fosse adicionado à sua molécula um éster, suas características lipofílicas lhe confeririam maior absorção. A grande vantagem que os idealizadores da creatina etil éster defendem se deve a hipótese que a creatina monohidratada, por não conseguir atravessar facilmente a barreira fosfolipídica da membrana, armazenaria-se em parte fora da célula, causando retenção hídrica. Segundo os criadores desta nova forma, é necessária uma dose muito menor de CEE, pois sua absorção é praticamente total. Por ser muito recente, ainda não existem muitos estudos conclusivos sobre a eficácia desta creatina. Entretanto, em um trabalho recente foi demonstrado que a CEE não apresenta grandes vantagens em relação à CM (Spillane et al, 2009).
CREATINA PIRUVATO – aqui é feita a adição de ácido pirúvico (cerca de 60%) à molécula de creatina (cerca de 40%). O piruvato está envolvido principalmente na geração de energia lática, mas também participa em diversas outras reações metabólicas. Jäger et al (2007) concluíram que a forma piruvato de creatina se mostrou superior a citrato, promovendo aumento de força e diminuição de fadiga.
Conclusões
Qual será então, a melhor escolha de um suplemento de creatina? Esta é uma pergunta difícil de ser respondida, uma vez que existem variações na resposta individual da administração desta substância. Enquanto a maioria dos autores concorda que os efeitos ergogênicos da creatina estão realmente comprovados e documentados, também assumem que estes efeitos podem variar de pessoa para pessoa. Sujeitos que têm uma alimentação escassa em carnes normalmente apresentam uma melhor resposta a creatina. Em um estudo conduzido com ratos, as respostas obtidas foram diferentes daquelas colhidas com camundongos, o que reforça a especulação que o mesmo vale para o modelo humano.
Uma das coisas que você certamente deve levar em consideração é que a maioria dos estudos atesta a eficácia e a segurança da creatina (desde que sejam respeitadas as doses adequadas). Procure a apresentação que melhor se adapte às suas necessidades e lembre-se: bom senso nunca é demais!
REFERÊNCIAS
Guyton, A. C.; Hall, J. Tratado de fisiologia médica. 9. ed. São Paulo: Guanabara Koogan,1997.
McGuire, D.M.; Gross, M. D.; Pildum, J. K.; Towle, H. C. Repression of rat kidney L-arginine: glicine amidinotransferase synthesis by creatina at a pretranslational level. J Biol Chem, Bethesda, no. 259, p. 1984.
Guimbal, C.; Kilimann, M. W. A Na+-dependent Creatine Transporter in Rabbit Brain, Muscle, Heart and Kidney. The Jounal of Biological Chemistry, Bethesda, no. 268, p. 8418-8421, 1993.
Mujika, I.; Padilla, S. Creatine supplementation as an ergogenic aid for sports performance in highly trained athletes: a critical review. Int J Sports Med, Stuttgart, no.18, p. 491-496, 1997.
Harris RC, Soderlund K and Hultman E. Elevation of creatine in resting and exercised muscle of normal subjects by creatine supplementation. Clin Sci (Lond) 1992; 83: 367-74.
Kuehl K, Goldberg L and Elliot D. Renal insufficiency after creatine supplementation in a college football athlete. Medicine and Science in Sports and Exercise 1998; 30: S235.
Poortmans JR, Auquier H, Renaut V, Durussel A, Saugy M and Brisson GR. Effect of short-term creatine supplementation on renal responses in men. Eur J Appl Physiol Occup Physiol 1997; 76: 566-7.
Poortmans JR and Francaux M. Long-term oral creatine supplementation does not impair renal function in healthy athletes. Med Sci Sports Exerc 1999; 31: 1108-10.
Poortmans, JR., Kumps, A., Duez, P., Fofonka, A., Carpentier, A., Francaux, M. Effect of oral supplementation on urinary methylamine, formaldehyde and formate. Med sci Sports Exerc, v. 37, n. 10, Oct, p. 1717-20, 2005
Van Loon LJ, Murphy R, Oosterlaar AM, Cameron-Smith D, Hargreaves M, Wagenmakers AJ, et al. Creatine supplementation increases glycogen storage but not GLUT-4 expression in human skeletal muscle. Clin Sci (Lond) 2004;106:99-106.
Olsen S, et al. Creatine supplementation augments the increase in satellite cell and myonuclei number in human skeletal muscle induced by strength training. J Physiol. 2006; 573: 525-534.
Eijnde, B., Jijakli, H., Hespel, p., Malaisse, W.J. Creatine supplementation increases soleus muscle creatine content and lowers the insulinogenic index in an animal model of inherited type 2 diabetes. Int J Mol Med, v 17, n.6, p. 1077-84, 2006
Tarnopolsky, M. A. & Beal, M. F. Potential for creatine and other therapies targeting cellular energy dysfunction in neurological disorders. Ann. Neurol. 49, 561–574 (2001).
Zhu, S.; Li, M.; Figueroa, B.E.; Liu, A.; Stavrovskaya, I.G.; Pasinelli, P.; Beal, M.F.; Brown, R.H.; Jr.; Kristal, B.S.; Ferrante, R.J.; Friedlander, R.M. Prophylactic creatine administration mediates neuroprotection in cerebral ischemia in mice. J. Neurosci., 2004, 24, 5909-5912.
Gualano B, Ugrinowitsch C, Seguro AC, Lancha Junior AH. A suplementação de creatina prejudica a função renal? Rev Bras Med Esporte 2008; 14:68-73.
Bender, A.; Samtleben, W.; Elstner, M.; Klopstock, T. Long-term creatine supplementation is safe in aged patients with Parkinson disease. Nutr. Res., 2008, 28, 172-178.
Selsby, JT., RA DiSilvestro, and S.T. Devor. Mg2+-creatine chelate and a low-dose creatine supplementation regimen improve exercise performance. J. Strength Cond. Res, 2004, 18,2, 311-315
Jäger R, Harris RC, Purpura M, Francaux M: Comparison of new forms of creatine in raising plasma creatine levels. Int J Soc Sports Nutr 2007, 4:17.
Spillane M, Schoch R, Cooke M et al. The effects of creatine ethyl ester supplementation combined with heavy resistance training on body composition, muscle performance, and serum and muscle creatine levels. J Int Soc Sports Nutr 2009; 6: 6.
BONS TREINOS E ATÉ A PRÓXIMA!
terça-feira, 15 de março de 2011
A “Demonização” da Testosterona

Contudo, ao ser incorporada ao inconsciente coletivo a idéia de que tais fármacos se limitam ao uso esportivo e (ou) recreacional, atribuiu-se a estas substâncias um caráter extremamente pernicioso, que acabou por derrubar por terra a idéia das propriedades benéficas destes compostos na clinica médica.
Tal demonização se deve, evidentemente, ao fato de que os mecanismos de mídia somente exploram o lado sensacionalista do assunto: “jovem morre por uso de anabolizantes esteróides” – quando na realidade, a morte fora provocada por utilização de pseudo-efedrinas ou outro tipo de estimulante – enquanto muito esporadicamente se ouve falar de seu emprego em tratamentos médicos. Com efeito, já é conhecida (muito bem) a gama de possíveis males resultantes da administração de EEAs, contudo atribui-se – como se já não fossem suficientes os efeitos adversos – mais uma dúzia de outros.
Com base nestas informações, a população entende que qualquer utilização – mesmo a legítima, prescrita por profissionais da área médica – é obrigatoriamente passiva de danos à saúde e fatalmente provocará a morte do indivíduo, quer seja por câncer, doença cardiovascular, dano hepático ou renal etc. Tais associações de fato existem, porém a prevalência destas ocorrências se faz superlativa através do senso-comum, quando na verdade, muitas vezes estas visões se encontram desamparadas de embasamento ou comprovação cientificas.
Recentemente, tive acesso a um artigo de revisão no qual se abordavam os efeitos positivos da administração de testosterona – com fins terapêuticos, é claro – no tratamento de vários quadros patológicos intitulado “The many faces of testosterone”, publicado em 2007. O autor, Jerald Bain, ao contrário do que possa parecer, não fez de seu estudo uma defesa emocionada em prol da testosterona. Apenas relatou de forma clara e concisa a utilização desta substância em diversas situações, especialmente nas condições observadas quanto ao declínio deste hormônio em grupos de idade avançada.
A despeito do que já foi comentado anteriormente, a testosterona não se reduz simplesmente a um hormônio de influência exclusivamente sexual, mas responsável por múltiplas interferências no metabolismo humano, tanto masculino quanto feminino. Tais efeitos são observados desde a vida intra-uterina até a idade avançada.
De acordo com o estudo, há muitas associações maléficas quanto ao uso da testosterona, como por exemplo, a idéia de que este hormônio cause danos ao coração. De acordo com a revisão, não existem evidências cientificas da relação entre testosterona e problemas no coração. Alguns estudos apontam, na contramão, que a testosterona pode até exercer efeito protetor ao órgão. Note que, essa afirmação é relacionada à testosterona bio-idêntica, e não aos famigerados agentes anabólicos 17α-alquelados, cuja relação com doença hepática e metabolismo da insulina é, de fato, real.
A testosterona exerce grande efeito protetor quanto à perda óssea observada com na idade avançada, como foi observado nos casos de hipogonadismo; nas mulheres na fase de pós-menopausa, agem melhorando neste grupo não somente a retenção do material ósseo, bem como promovendo aumento na libido; em estados de convalesça onde exista uma excreção nitrogenada excessiva; no tratamento de alguns tipos de depressão associada à queda de andrógenos; na questão do aumento da cognição e concentração mental; no tratamento de determinados casos de artrite reumatóide; para não citar os tratamentos nos casos de anemia, AIDS, queimaduras graves etc.
Neste contexto, o grande viés encontra-se não na utilização de testosterona, e sim nos problemas relacionados com o uso indiscriminado e sem orientação médica. A “demonização” deveria restringir-se somente aos casos de utilização sem propósito terapêutico. Nesta área, o hormônio pode fazer parte da lista de drogas de primeira escolha no tratamento de diversas patologias.
Atualmente, muitos endocrinologistas, especialmente nos EUA, prescrevem administrações de testosterona através de patchs ou implantes subcutâneos a fim de melhorar não somente a libido (masculina e feminina) bem como no sentido de promover efeito protetor contra os efeitos deletérios observados com o declínio natural deste hormônio em faixas etárias mais avançadas.
A utilização da testosterona como agente terapêutico, entretanto, para qualquer fim, deve obrigatoriamente ser prescrita por profissional da área médica, e isto na verdade se constitui como uma forma de expurgar a má imagem desta substância perante a opinião pública.
Ao passo de que é importante ressaltar a valiosa contribuição para a saúde advinda da utilização terapêutica de testosterona, é imprescindível acrescentar que a auto-manipulação pode ser extremamente perigosa.
Não é sequer necessário mencionar que o mercado encontra-se cheio de testosterone boosters e pré-hormonais que são vendidos livremente e derivam para os mesmos possíveis efeitos decorrentes – e muitas vezes até mais graves – do uso abusivo e (ou) indiscriminado dos EEAs. Sob esta ótica, concluímos que é uma tarefa um tanto quanto difícil livrar a testosterona do papel de vilã a qual tem sido atribuída.
BONS TREINOS E ATÉ A PRÓXIMA!
quarta-feira, 16 de fevereiro de 2011
Resistência a Insulina e uso de Esteróides: existe relação?

Porém, uma das mais importantes influências dos hormônios sexuais – em particular, dos androgênicos – está na capacidade de melhorar a captação de glicose, especialmente do miócito e do adipócito. Por esta razão é que diabéticos insulino-dependentes são recomendados a diminuírem sua dosagem diária de insulina quando se encontram em tratamento com EEAs: a glicose é carreada mais facilmente para os tecidos, sendo portanto, necessária uma dose menor de insulina.
Então, a insulina age melhor na presença de níveis aumentados de esteróide? A primeira vista, pode-se dizer que sim. Porém, há situações em que a influência dos hormônios sexuais se comporta de maneira inusitada, a despeito do que ocorre na síndrome dos ovários policísticos (SOP). Esta condição consiste em um aumento da produção de hormônios androgênicos em mulheres, especialmente a Desidropiandrosterona (DHEA) – neste caso, produzida nas glândulas adrenais – e a própria Testosterona – originária dos ovários.
O aumento da produção de andrógenos nesta situação conduz a uma diminuição da sensibilidade à insulina, que por sua vez provoca uma necessidade de aumento da secreção deste hormônio, gerando um quadro conhecido como hiperinsulinemia. Face a esta situação, a quantidade excessiva de insulina sérica induz à síntese de andrógenos e assim se estabelece um círculo vicioso em termos de resposta metabólica. Quantidades aumentadas de insulina diminuem a sensibilidade à mesma, causando uma resistência à sua ação. Este fenômeno é conhecido como Resistência à Insulina, ou simplesmente RI.
A RI tem sido estudada como agente etiológico de uma das mais prevalentes disfunções da atualidade: a Síndrome Plurimetabólica (ou Síndrome Metabólica). Pacientes portadores de SOP tem todos os riscos da SM aumentados justamente pela cadeia de reações originada em função do aumento da RI.
Nos quadros de SOP, o aumento da secreção insulínica promove uma diminuição de importantes proteínas transportadoras, como a SHBG e a IGFBG-1, que acaba por aumentar os níveis séricos de andrógenos livres e IGF-1 bio-ativo. Estes, por sua vez, reestimulam a produção de mais andrógenos, consistindo em um circulo vicioso.
A insulina é responsável pela remoção do excesso de glicose sérica e, por conseguinte, pelo seu transporte até os tecidos. Resumidamente, em relação a esta via metabólica, a insulina desempenha um papel de carreadora da glicose – e também de aminoácidos – até o seu receptor nos tecidos-alvo. Quando há uma diminuição da sensibilidade a este hormônio, é necessária uma secreção ainda maior do mesmo, o que acaba por desencadear outras reações em resposta. Nas fases iniciais de quadros de RI, normalmente a situação de hiperinsulinemia é compensada. Porém, a exigência aumentada das células β pancreáticas tende a lesá-las de forma permanente, o que pode levar, em médio ou longo prazo, a um quadro de Diabetes tipo II, comum na SM.
Sendo a hiperinsulinemia uma condição que onde há indução de glicogênese, e inibição da glicogenólise hepática, a princípio poder-se-ia dizer que se trata de uma situação extremamente favorável ao anabolismo. De fato, em estágios iniciais pode parecer favorável, uma vez que há uma compensação metabólica, como foi mencionado anteriormente. Entretanto, episódios repetidos de hiperinsulinemia ativam vários mecanismos que culminam em aumento da gordura corporal – através da inibição da Lipase Hormônio Sensível e também da ativação da Lipoproteína Lipase, entre outras reações – e intolerância a glicose. Tal quadro contribui enormemente para acúmulo de sobrepeso, dislipidemias, distúrbios cardiovasculares, Diabetes etc.
Como alguns estudos apontam para uma possível relação entre a atividade androgênica aumentada e distúrbios relacionados ao metabolismo da glicose (quadro semelhante ao ocorrido no SOP), há indícios que sustentam que esta hiperinsulinemia causada por tal atividade pode levar a todos os outros efeitos observados na SM. Sendo os tecidos muscular e adiposo os principais receptores da glicose (dependentes de insulina), um desequilíbrio desta natureza pode se traduzir em uma terrível equação: menos músculos e mais gordura.
Em um estudo publicado pelo Journal Clinical Endocrinology and Metabolism –Insulin resistance and diminished glucose tolerance in powerlifters ingesting anabolic steroids, os autores estabeleceram uma relação direta entre o uso abusivo de EEAs, aumento da RI e da intolerância a glicose. Foram estudados levantadores que utilizaram anabolizantes esteróides por um período de sete anos. Os pesquisadores encontraram altos níveis de insulina sérica no grupo dos usuários de EEAs frente ao grupo de não- usuários. Já em outro estudo, intitulado Effect of 2 Years of Testosterone Replacement on Insulin Secretion, Insulin Action, Glucose Effectiveness, Hepatic Insulin Clearance, and Postprandial Glucose Turnover in Elderly Men, foram estudadas as reações durante o período da terapia de reposição de androgênicos em homens idosos. Neste artigo, as respostas metabólicas do grupo controle se mantiveram praticamente idênticas as encontradas no grupo placebo, o que levou a crer que níveis fisiológicos normais de andrógenos podem contribuir de forma benéfica para o metabolismo da glicose.
Fisiculturistas usualmente utilizam não somente EEAs, como também Insulina exógena. A quantidade excessiva de esteróides por si só já poderia ser classificada como agente causador de RI. Não bastasse esta possibilidade, o próprio execesso de insulina exógena administrada gera um quadro de elevada hiperinsulinemia, contribuindo, desta forma, para surgimento da RI. Com o propósito de evitar estes desequilíbrios metabólicos, muitos atletas lançam mão de anti-diabéticos orais – como a Metformina – a fim de melhorar a sensibilidade à insulina.
À medida que pesquisamos, percebemos que a manipulação da bioquímica corporal é assunto de extrema complexidade e que muitas reações podem ser previsíveis, enquanto outras nem tanto. Neste caso, o melhor é apelar para o bom-senso.
BONS TREINOS E ATÉ A PRÓXIMA!
domingo, 30 de janeiro de 2011
Pré-hormonais, álcool e enzimas hepáticas

O que muita gente não sabe – como já comentamos anteriormente, a falta de informação é um mal crônico em nosso país – é que estes produtos praticamente são e se comportam como os AAEs em que foram inspirados. A diferença é que estas substâncias serão, através de processos enzimáticos, convertidas pelo organismo na forma anabólica da droga original ou em algo muito próximo dela. Resumindo, os PHs nada mais são do que AAEs “politicamente corretos”. Ainda não se atribuiu a esta classe de substâncias a demonização comum aos AAEs.
Isto acaba por fazer com que muitas pessoas que optam por estes recursos, estufem o peito e afirmem com convicção: “Eu não utilizo anabolizantes! Só pré-hormonais!” Este tipo de comportamento revela uma visão equivocada e até paradoxal, constituindo-se portanto, uma verdadeira antítese.
Uma das “vantagens” deste tipo de composto reside no fato da sua administração – por via oral – o que se traduz em uma enorme conveniência para aqueles que não suportam a idéia de injeções. Entretanto, esta conveniência é, na verdade, uma faca de dois gumes, pois leva ao surgimento de uma quantidade ainda maior de efeitos colaterais indesejáveis, pela “dupla” passagem pelo metabolismo hepático.
Para piorar a situação, os maiores consumidores de PHs são na maioria, adolescentes ansiosos por rápidos efeitos em seus físicos. Vale a pena ressaltar, mais uma vez, que muitos deles não percebem que tais produtos apresentam os mesmos efeitos dos famigerados AAEs, sendo comparáveis aos 17-α alquelados, renomados por lesões hepáticas. Como se não bastasse, juntamente com o uso indiscriminado – e muitas vezes, excessivo – dos PHs, é muito comum o consumo de bebidas alcoólicas nesta faixa etária, aumentando exponencialmente a possibilidade de lesão hepática.
Como a maioria de nós já tem conhecimento, pré-hormonais precisam passar pelo fígado e preservar a forma ativa esteroidal. De certa forma, estes compostos tendem a ser neutralizados por este órgão, então a solução encontrada foi adicionar um grupo metil ou etil na posição α do 17° carbono da molécula. Essa alteração acaba se constituindo como uma “proteção” para que a molécula do éster passe ilesa pela atividade hepática. Isto é evidenciado pelo grande aumento na produção das aminotransferases hepáticas, especialmente TGO (transaminase glutâmico-oxalácetica) ou AST(aminotransferase do aspartato) e TGP (transaminase glutâmico-pirúvica) ou ALT (aminotransferase da alanina) e das enzimas FA (Fosfatase Alcalina) e GGT (Gama Glutamil Transferase).
Já na ingestão de álcool, através da ADH (Álcool-desidrogenase), ocorre a formação de um composto denominado formaldeído, que deve ser neutralizado por processo enzimático pela ALDH (Aldeído-desidrogense). Estas reações exigem excessivamente o metabolismo hepático, e em última instância, o metabolismo renal, levando à desidratação comum no período pós-ingestão alcoólica. Como o tecido muscular é constituído de cerca de 70 a 75% de água, ocorre, além do trauma hepático, diminuição do volume muscular.
Tanto na ingestão excessiva de álcool, como na utilização de determinados medicamentos, estas enzimas tendem a apresentar variações. Isto pode revelar, na maioria dos casos, problemas relativos ao funcionamento do fígado, embora seja importante salientar que nem sempre o aumento destes marcadores representa dano hepático. Na ocorrência de exercícios vigorosos, como a musculação, elas tendem também a aumentar.
Porém, indiscutivelmente o consumo de álcool e a utilização concomitante de AAEs orais ou PHs elevam a atividade metabólica do figado, podendo gerar graves lesões neste órgão. Observe que, até aqui mencionamos apenas os possíveis danos hepáticos, mas também devem ser pesadas as outras diversas reações negativas advindas da utilização dos PHs, como supressão da produção endógena de testosterona, aromatização, dislipidemias etc.
Enfim, se você treina duro na sala de musculação e ainda assim, não quer abrir mão das noitadas regadas a álcool na companhia dos amigos, pense duas vezes antes de utilizar pré-hormonais. Pode sair mais caro do que você imagina.
BONS TREINOS E ATÉ A PRÓXIMA!!!
domingo, 2 de janeiro de 2011
O papel do IGF-1 na hipertrofia muscular.

Neste cenário, surgia muito timidamente um novo aliado na busca da melhora do desempenho entre os atletas aficionados por biochemical enhancement. Este, bastante conhecido entre os estudiosos da fisiologia humana, despontou como mais uma opção para otimizar o desempenho atlético. Sim, estamos falando do atualmente comentadíssimo Insulin-like Growth Factor – o IGF-1.
Como foi mencionado acima, há muito tempo já eram conhecidos os efeitos deste poderoso hormônio, o que não era usual era sua utilização como recurso ergogênico. Em uma das seções de Sports Drugs (atualmente esta seção da revista já não mais existe, talvez por Weider temer que sua imagem seja associada com drogas) de uma edição de 1998 da Flex Magazine, assinada pelo Science Editor Chris Street, um leitor escreveu curioso perguntando acerca dos efeitos do IGF-1. Todavia, seu uso como método ergogênico ainda era obscuro, pois apenas naquela década é que começaram a ser conduzidos estudos em maior escala. A própria fabricação de IGF-1 através de gene recombinante ainda era uma novidade.
Hoje, entretanto, o IGF-1 é utilizado em diversos tratamentos médicos, especialmente em casos de distrofias musculares graves, como as que ocorrem na doença de Duchenne e na recuperação de HIV soro-positivos.
Sua apresentação é na forma de pó liófilo que deve ser reconstituído com água destilada. Como ocorre com o HGH e a insulina, este fármaco deve ser mantido sob refrigeração adequada, para que sua cadeia polipeptídica não se desnature. Após a reconstituição, mesmo em refrigeração sua ação pode gradualmente ser neutralizada em dias.
Como não podia deixar de ser, a despeito do que aconteceu com os inibidores de miostatina, a indústria da suplementação aproveitou-se da idéia e atualmente o mercado oferece varias opções de suplementos que “prometem” aumentar a produção de IGF-1, porém com já era de se esperar, nenhum desses efeitos foi comprovado em estudos sérios.
Mas, afinal de contas, o que é o IGF-1? Nosso organismo produz vários hormônios que ficaram conhecidos como fatores de crescimento, que nada mais são do que substâncias que mediam importantes vias metabólicas de síntese e assimilação. As somatomedinas IGF-1 e IGF-2 desempenham um papel de grande importância no anabolismo de uma maneira geral, não tão somente do músculo esquelético estriado, mas também de diversos outros tecidos e órgãos.
Descoberto há cerca de 50 anos, embora já tendo muitas de suas ações conhecidas, ainda reserva mais estudos para ser elucidado completamente. O IGF-1 é composto por uma cadeia de cerca de 70 aminoácidos, sendo, portanto um hormônio peptídico. Sua produção ocorre principalmente no fígado e seus efeitos anabólicos se assemelham aos da insulina humana. Exerce importante ação no metabolismo do tecido ósseo, cerebral, neuronal e evidentemente, das células musculares (em particular, nos monócitos conhecidos como células satélites).
Vale a pena ressaltar que o principal mecanismo de anabolismo observado na ação do Hormônio do Crescimento Humano (HGH) se deve ao fato deste mediar a atividade do IGF-1, o que por si só já justificaria a notável capacidade anabólica desta somatomedina. Também a tradução de sua denominação (fator de crescimento insulino-mimético) revela a estreita semelhança entre esta substância e outro poderoso peptídeo renomadamente anabólico: a insulina.
Alguns estudos corroboram com estas propriedades do IGF-1, em particular no sentido de reverter a perda muscular observada em idades avançadas. Em um estudo conduzido por pesquisadores da University Pensylvania School of Medicine, observou-se que a administração de IGF-1 recombinante proporcionou uma melhora significativa na força e volume muscular em ratos adultos, em contrapartida a diminuição destas características que ocorrem com o avanço da idade. Outro estudo, publicado no Journal of Applied Phisiology - Anabolic influences of insulin-like growth factor I and/or growth hormone on the diaphragm of young rats – demonstrou que a administração combinada de HGH e IGF-1 se mostrou superior em anabolismo do que as administrações isoladas destas duas substâncias. Muito provavelmente isto se deve ao fato que os efeitos mediadores de GH em relação ao IGF-1 são independentes a produção local de somatomedinas por outros tecidos.
É inegável o efeito anabólico deste hormônio, porém seu uso não é tão livre de perigos quanto qualquer outro método proibido. Embora este peptídeo não apresente efeitos diretos sobre o eixo hipofisário-testicular, já foram feitas observações em estudos sobre a (improvável???) relação entre IGF-1 e aumento da expressão de uma enzima já bastante conhecida por nós, que promove uma série de efeitos típicos do uso de AAEs – a 5α redutase – responsável pela conversão de testosterona para dihidrotestosterona. Como podemos ver, o estudo do metabolismo humano nos revela que não existe reação isolada em nosso organismo. A coisa é bem mais complicada do que parece...
Links dos artigos:
- http://jap.physiology.org/cgi/reprint/82/6/1972
- http://edrv.endojournals.org/cgi/content/full/28/6/603
- http://www.pnas.org/content/95/26/15603.long
BONS TREINOS E ATÉ A PRÓXIMA!!!
quarta-feira, 17 de novembro de 2010
O Uso de Esteróides Anabolizantes diminui a expectativa de vida?
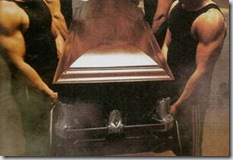
O universo do uso de recursos ergogênicos é, em sua essência, amparado por conhecimentos estritos em bioquímica e farmacologia – embora muito freqüentemente apareçam “gurus” com visões controversas, como foi o caso de Dan Duchaine, cuja literatura underground inclusive causou sérios danos na saúde de seus seguidores – mas não deixa de ser um ambiente restrito aos atletas e preparadores, extremamente fechado ao mundo externo. Por esta razão é existe uma distância imensa entre a realidade vivida por essas pessoas e aquelas que se propõem a realizar pesquisas e estudos sobre o tema.
Um estudo em particular, intitulado Exposure to Anabolic-androgenic Steroids Shortens Life Span in Male Mice (exposição a esteróides anabólico-androgênicos reduz expectativa de vida em ratos machos), publicado em 1997 pela ACSM– American College of Sports Medicine, reforça a idéia – confirmando o senso-comum – de que a utilização de esteróides androgênicos anabólicos pode reduzir o tempo de vida daqueles que o utilizam.
O estudo foi feito com ratos machos adultos, que receberam uma dosagem múltipla de diferentes tipos de AAEs, como cipionato de testosterona, metiltestosterona e noretandrolona. O tempo de administração foi de seis meses. Foram divididos dois grupos: um onde foram feitas dosagens moderadas e outro com altas dosagens. A quantidade utilizada ficou entre cinco a vinte vezes o usualmente empregado na terapêutica. A forma de administração foi por implante sub-cutâneo.
Após um ano da interrupção do uso dos AAEs, 52% das cobaias do grupo alta dosagem haviam morrido, enquanto no grupo de dosagem moderada morreram 35% dos ratos. As autópsias revelaram que em ambos os grupos os animais tinham desenvolvido tumores hepáticos, renais e uma série de lesões em órgãos como coração, pulmões e nos gânglios linfáticos.
À primeira vista, este parece ser o resultado que mais corrobora com o senso-comum. De fato, o uso destes farmacológicos pode representar também em humanos, especialmente aqueles que os utilizam para fins de melhora no desempenho atletico, uma diminuição da longevidade. Mas procuremos analisar a situação com olhar mais detalhado. Segundo o Science Editor Chris Street, o estudo não foi conclusivo porque houve uma enorme discrepância entre os protocolos utilizados no experimento em relação aos utilizados pelos atletas, especialmente fisiculturistas.
Com efeito, as combinações feitas no experimento estão longe de ser as mesmas praticadas no mundo do bodybuilding, powerlifting ou qualquer outro esporte. Os pesquisadores utilizaram drogas altamente androgênicas e por um período ininterrupto e bastante extenso. Considerando o tempo de vida de um rato Wistar (utilizado no estudo), que é de cerca de 34 meses, no máximo, o tempo de dosagem proporcional a um ser humano seria de 12 anos ininterruptos!
As administrações de AAEs por fisiculturistas geralmente são feitas em ciclos, de duração moderada, usualmente duas a três vezes ao ano. Provavelmente nenhum atleta deva ter feito o uso por um período de 12 anos sem pausa. Também há disparidades, como já foi citado, na natureza das drogas consumidas. As preparações feitas por fisiculturistas normalmente não combinam três drogas de alto perfil androgênico simultaneamente. O ideal seria que fossem feitas pesquisas que se assemelhassem mais à realidade dos atletas a fim de que se colhessem resultados mais fidedignos, condizentes com a situação real.
Sem sombra de dúvida, há estreita relação entre a utilização de AAEs e ocorrência de diversas patologias, porém devemos lembrar que existem as predisposições genéticas para cada enfermidade. Imagine que, todos os anos pessoas são acometidas por problemas que normalmente são associados ao uso de ergogênicos, sem contudo nunca os terem utilizado. Uma das provas que esta idéia não é de todo verdadeira é a longevidade de vários fisiculturistas profissionais como Arnold, Lee Haney, Vince Taylor, Larry Scoot, Robby Robinson, Ed Corney, Dave Draper e muitos outros.
A despeito do que possa aparentar, mesmo não encontrando verossimilhança entre o experimento e a realidade vivida pelos atletas, não há como garantir que a utilização tanto dos AAEs ou de qualquer outro farmacólogico seja completamente segura e livre de riscos. Os preparadores o fazem sempre considerando a relação risco-benefício e ainda assim sob estrita vigilância e monitoramento. Não parece nada prudente aventurar-se nessa jornada sem possuir o mínimo embasamento teórico; não há nenhuma garantia nesse aspecto. Entretanto, podemos chegar à conclusão de que, se a sua genética não se relaciona com os problemas advindos do uso de AAEs, provavelmente não serão eles que diminuirão seu tempo de vida. Quem sabe a culpa não seja dos analgésicos?
BONS TREINOS E ATÉ A PRÓXIMA!
Clenbuterol e Anabolismo Muscular
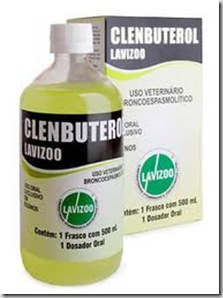
A capacidade anabólica do clenbuterol tem sido relatada não somente por usuários deste farmacológico, mas também foi alvo de diversos estudos científicos. Nestes estudos, comprovou-se a eficácia do clenbuterol na manutenção da massa magra, mesmo em períodos de imobilização muscular.
O Clenbuterol é uma amina simpático-mimética, que possui alta afinidade com os receptores β-adrenérgicos, sendo, portanto uma substância capaz de estimular estes receptores exercendo função semelhante às das catecolaminas. Através desta estimulação há uma reação em cadeia que eleva o metabolismo energético, tal como observado com a epinefrina (adrenalina).
Esta droga é originalmente prescrita para auxiliar na desobstrução da vias aéreas, como ocorre nos casos de asma e broncopneumonia, tanto em pacientes humanos quanto em animais. Contudo, no Brasil seu uso se restringe à medicina veterinária. Paralelamente à melhora observada nos quadros de doenças respiratórias, foi percebida uma diminuição no catabolismo muscular. Este efeito incentivou pesquisadores a estudarem mais detalhadamente como a droga exercia tal função anti-catabólica.
Através dos estudos, concluiu-se que o clenbuterol efetivamente possuía a capacidade de não somente inibir a perda de massa magra em pacientes imobilizados, como promover anabolismo em pacientes não-imobilizados. Embora ainda não se conheça claramente a origem destes efeitos, a comprovação cientifica destes foi mais do que reconhecida, sendo o clenbuterol inclusive utilizado na recuperação da distrofias musculares ocorridas por desnervação ou desuso (fora do país).
Em estudos realizados com ratos, o clenbuterol demonstrou grande capacidade de aumento na síntese de glicogênio, retenção de nitrogênio e incremento na produção de IGF-1 e ainda aumentou a sensibilidade à insulina – e nem comentamos os seus efeitos como lipolítico (este é observado nas primeiras semanas de uso, os demais nas últimas semanas).
Com base neste raciocínio, alguns “drug experts” recomendam que se use o clenbuterol como recurso ergogênico de duas formas: para fins de perda de gordura deve-se utilizar por duas semanas sim, duas não; para anabolismo, é necessário prolongar o uso por mais tempo – seis ou mais semanas – dois dias sim, dois dias não (???). Como o uso prolongado do clenbuterol pode diminuir a afinidade com os receptores β, sugere-se que seja administrado um medicamento anti-histamínico para evitar esse efeito. Um verdadeiro coquetel! Ao contrário do que se possa imaginar desta droga como sendo exclusiva de utilização no fisiculturismo, esta também é bastante popular em outras modalidades, como apontam os casos recentes ocorridos no ciclismo e natação.
Embora apresente todas estas vantagens, este fármaco possui uma série de efeitos colaterais que devem ser considerados. A curtíssimo prazo há manifestação de taquicardias, tremores, insônia, dor de cabeça e sudorese. Em médio a longo prazo, dependendo da duração da utilização da dose, pode haver hipertrofia ventricular do coração e possivelmente apoptose de células miocárdicas.
Como podemos concluir, existe de fato uma relação entre a utilização de clenbuterol e o anabolismo muscular, mas também podem surgir vários efeitos adversos que precisam ser ponderados com bastante cautela e bom senso. Você arrisca?
BONS TREINOS E ATÉ A PRÓXIMA!!!










